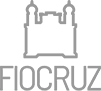É com honra e entusiasmo que publicamos em primeira mão, a seguir, um dos capítulos do novo livro de Rosana Onocko-Campos, Psicanálise & Saúde Coletiva: Interfaces II. Rosana é uma grande pensadora da crise que o Brasil atravessa, além de ser hoje uma das vozes mais ativas na defesa do SUS. Presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) até a primeira metade de 2024, professora do Departamento de Saúde Coletiva da FCM/Unicamp, tem também um papel fundamental na articulação da Frente pela Vida, rede de movimentos que lutam pelo fortalecimento do SUS.
Suas reflexões a respeito da Saúde Coletiva também se voltam para outro saber essencial à compreensão da sociedade: a Psicanálise. Como ela mesma comenta, no prefácio do livro, são “dois campos que pouco conversam habitualmente”. Mas Rosana busca ligar os pontos que os conectam. “Na Psicanálise há, em tempos recentes, uma retomada da ideia de colocá-la ao serviço do grande público, de tirá-la de seu lugar de disciplina fechada e já toda pronta para todo o sempre, e de produzir interseções que fertilizem sua renovação disciplinar”, explica, e acrescenta: “Essa tendência é muito bem-vinda e nela me reconheço inserida”.
Em seu novo livro, a ser lançado em outubro pela Editora Hucitec, ela reúne alguns de seus últimos artigos em que busca a intersecção dos dois campos – além de dois capítulos inéditos, um dos quais você lê abaixo. Desta vez, suas reflexões trazem os impactos de uma nova iniciativa encabeçada por Rosana na Faculdade de Saúde Coletiva: um ambulatório de assistência a pessoas expostas a violência, o Liame, criado em 2018. “A tessitura de relações que ele nos permitiu estabelecer com os pacientes, com os serviços de saúde e assistência social, mas também com o território e as comunidades foi relevante para que ampliássemos nosso repertório teórico na busca por respostas a tamanha intensidade”, escreve Rosana.
O artigo que você lê a seguir é parte do 8º capítulo de Psicanálise & Saúde Coletiva 2. Nas palavras da própria autora, ele “tenta ‘costurar’ diversas referências teóricas para subsidiar a minha tese de que não basta analisar a situação nacional, devemos agir. E agir produzindo políticas públicas que restaurem os lugares de dignidade para o povo brasileiro”. Boa leitura.
[G. L.]
O que mantém uma sociedade unida?
Para Freud, em Psicologia das massas e análise do eu o que sustenta uma sociedade unida seria o amor ao líder encarnado na figura paterna.
Groarke (2014) coloca a questão da seguinte maneira:
“Além disso, o argumento em Psicologia das Massas sobre a identificação primária está ligado à ideia de que não existe sociedade sem autoridade paterna. Para Freud, a coesão da sociedade é mantida pelo investimento dos indivíduos em objetos que substituem o ideal de ego paterno.” (2014, pp10)*
Assim, também em O futuro de uma ilusão, Freud sustentará que a necessidade de proteção contra as fragilidades humanas funda a base social e histórica das religiões. A ilusão nesse pai idealizado estaria na base de toda confiança religiosa. E toda confiança na religião nada mais seria que uma maneira da humanidade se iludir sobre sua própria finitude e fragilidade.
Diferentemente, um dos grandes temas winnicottianos tem a ver com o lugar da ilusão na coesão social.
“Enquanto Freud via a ilusão de forma negativa, como um fracasso em fazer os sacrifícios necessários diante da realidade, Winnicott tinha uma visão mais positiva da ilusão, considerando-a, na verdade, uma condição prévia para estabelecer contato com a realidade.” (Groarke, 2014, pp11)
Para Winnicott, o manejo do amor é fundante da subjetividade e – por conseguinte – da sociabilidade. Aliás, poderíamos concordar com Groarke quando afirma que para Winnicott o manejo é a primeira forma do amor. Por isso, para esse autor, Winnicott teria colocado uma natureza “corporificada” no amor, e, a partir dessa leitura, podemos compreender que seria por meio da experimentação de um primeiro ambiente amoroso que o infante poderá sentir – posteriormente – o mundo como algo que merece ser amado.
O Texto de Groarke “Managed Lives” convida-nos a entender a grande originalidade Winnicottiana e – ao mesmo tempo – nos permite alicerçar nela uma leitura do social que possa fazer da esperança uma força motriz e construtiva, criativa. Para ele “Suas ideias foram utilizadas durante e após a Segunda Guerra Mundial para fins de gestão social” (Groarke, idem, pp24). Para esse autor, a ligação entre seguridade e provisão social abrem novas possibilidades para pensarmos a racionalidade dos governos. Em sua leitura, Winnicott teria proposto uma forma de manejo social decorrente de “técnicas da intimidade” e isso teria sido feito ao longo da história através de 3 maneiras principais:
– A primeira decorre do valor dado a relação primeva entre a mãe e o bebê. Dela decorreriam as inúmeras práticas governamentais que visam as mães e a maternidade como alvos das ações governamentais.
– A segunda estaria relacionada a afirmação de que a gente passa a maior parte de nossa vida experimentando a vida no espaço intermediário, a saber, para Winnicott, em se falando de adultos, na cultura. Dali decorreria uma certa regulação e a busca de autocontrole na vida cotidiana, no dia a dia.
– A terceira teria a ver com a elaboração Winnicottiana sobre as falhas ambientais, como produtoras de condutas antissociais. Dali decorreria a prescrição de reabilitação, a ideia de que seria razoável instituir intervenções administrativo-terapêuticas para reparar as deficiências ambientais sofridas por esses sujeitos.
Resumindo, Groarke defende que as contribuições Winnicottianas abriram caminho para uma série de intervenções estatais e novas regulações da vida social a partir do pós-guerra imediato.
Durante a segunda guerra mundial, Winnicott (1965/2001) afirmou que a democracia só pode ser sustentada com pessoas que chegaram à “maturidade emocional”. Para ele, a cultura assentaria em uma base de maturidade e criatividade.
É interessante resgatar aqui o engajamento político de Winnicott naquele momento. Em seu texto “discussões sobre a guerra” ele admite que “lutar para ganhar” se justificaria simplesmente porque não gostaríamos de ser exterminados ou escravizados. Essa afirmação é coerente com sua visão da vida como atividade que tem sempre um enquadre social como referência. Lutar para salvar a própria pele é um argumento político e não moral. Segundo Groarke: “De acordo com essa visão, não há paz que venha sem uma luta real – não há maturidade sem desafio e a implacabilidade que ela pressupõe.” (Groarke, idem, pp 62). Lembremos que, para Winnicott, a atitude desafiante e destrutiva, levando posteriormente a capacidade de “concern” (preocupação) é parte essencial dos processos de maturação. Por isso, a destrutividade é vista por ele como concomitante ao viver e ao crescer, e não como uma mera expressão da pulsão de morte.
Em um texto dos anos 60, ele se perguntava qual proporção de indivíduos maduros seria necessária para que houvesse uma tendência inata à democracia? E que proporção de indivíduos com tendência antissocial uma sociedade pode conter sem perder essa tendência. Se o bom desenvolvimento da sociedade depende do desenvolvimento emocional, então, promovê-lo se tornaria uma prioridade. Abordamos essa questão em outro trabalho (Onocko-Campos, 2023) e retomaremos à frente ao procurar compreender o apelo que figuras autoritárias e igrejas coercitivas tiveram em tempos recentes na sociedade brasileira.
Groarke chama a atenção para o fato que nesse texto do Winnicott dos anos 60 sobre a democracia não há nenhuma referência a classes sociais, equidade ou acesso igualitário a serviços. Havendo sim, em seu lugar, uma aposta no trabalho do “bom lar comum”. Para Winnicott, na sua visão social democrática e euro centrada dos anos 50, as “boas famílias comuns” fariam a maior parte do trabalho de maturação e socialização. Elas precisariam de ajuda governamental sim, mas fundamentalmente do acesso a tratamentos médicos, educação infantil, serviços sociais e suporte psiquiátrico. Contudo, ele apelava ao “tato” nas intervenções estatais, destacando que nunca as ações governamentais conseguiriam substituir o trabalho desempenhado pelas “boas famílias comuns” e que os pais, mesmo quando precisassem e recebessem ajuda, nunca deveriam ter suas responsabilidades parentais retiradas deles.
Como aproximar esses conceitos da realidade brasileira de hoje? É claro que resulta impossível pensar na democracia no Brasil sem pensar na inclusão e reparação de imensas parcelas da sociedade. Pensamos que alguns conceitos aqui apresentados nos ajudariam a redesenhar as políticas públicas, particularmente no caso da Saúde, Educação e Assistência Social. Reconhecer as marcas das falhas ambientais, sobreviver sem retaliar ao uso da agressividade e buscar produzir compromisso com a reparação, por exemplo, seriam ações fundamentais para contribuir com a maturidade psíquica de grande parte da sociedade. As famílias não conseguirão fazer isso por si sós, à maneira do Barão de Münchhausen, se auto puxando pelos cabelos. Precisamos de investimentos especialmente direcionados para produzir esse tipo de reparação. Retomaremos algumas destas questões adiante.
O direito à esperança como forma de inclusão social
Winnicott (2005/1984) em Privação e delinquência apontou como sinal de esperança os movimentos agressivos dirigidos ao ambiente perpetrados pelas pessoas com comportamento antissocial. Esses gestos deveriam poder ser traduzidos, por assim dizer, pelas equipes das políticas públicas, de modo a permitir que o objeto agredido sobrevivesse e sem retaliar. Assim, as capacidades de compromisso e reparação seriam desenvolvidas e o acesso à maturidade emocional seria restabelecido. Discutimos isso em relação às abordagens clínicas e assistências dos jovens em outro trabalho (Onocko-Campos, 2018).
Na clínica com pessoas jovens, vemos muito frequentemente como a restauração da esperança é suficiente para desencadear neles uma série de movimentos de automaternagem e aprimoramento pessoal. Ela não se efetiva sem uma certa elaboração do luto por aquilo que poderia ter sido (uma boa provisão ambiental) e não houve.
Para abordar essa questão recorreremos a outros autores.
Luto, dignidade e antipatriarcalismo
Bonnie Honing toma o mito de Antígona para refletir sobre as questões da dignidade, do luto e das mediações simbólicas que as mulheres conseguimos fazer ao longo da história. No seu “Antigone Interrupted” (2013) ela revisita o mito para produzir uma leitura inovadora e provocativa. Honig critica as leituras mais clássicas que colocaram Antígona como a heroína defensora do direito ao luto.
Percorrendo a obra de outras autoras como Butler e Elshtain, Bonnie Honig provoca uma releitura de Antígona, e denuncia como um enfraquecimento político da heroína analisá-la somente como defensora do direito à equidade no luto (ela dirá: “a dignidade igual da morte, cuja equidade muitas vezes parece mais fácil de conceder do que a dos vivos.” pp39). Inclusive a abordagem de Elshtain, que utilizou Antígona para realizar uma analogia com as Madres da Plaza de Mayo, é objeto de crítica por parte de Honig.
“As Madres não apenas agiram como mães, mas, mais importante ainda, agiram como mães” (Honig, idem pp 40, negritos da autora). Para Honig, fazendo essa aproximação entre as Madres e Antígona, Elshtain coloca as Madres acima ou além da política, ligando-as a um ‘maternalismo’ que representa a maternidade como universal, natural e não datada, e as liga a uma ética do cuidado. No mesmo movimento, Antígona é esvaziada de seu espírito de vingança, despolitizando-a. Para Honig, Antígona é ao mesmo tempo uma figura de soberania e precariedade.
Na sua reflexão sobre os usos políticos do luto, Honig recorre ainda aos trabalhos de Douglas Crip que analisando os anos 80, durante o início da epidemia de AIDS, desenvolveu uma argumentação sobre as políticas do luto que não levava ao luto da política. Luto e ativismo não se opõem.
Se para Freud o trabalho do luto pressupõe uma retirada de investimentos sobre o mundo exterior, Honig destaca que o luto começa assim, mas não é ali que termina. O reinvestimento narcísico permitirá ao sujeito recuperar a satisfação de estar vivo. Nos idos dos anos 80 o movimento ACT UP resistiu às pressões para manter o movimento LGBT no armário, na visão de Honig:
“Tiveram que, como Antígona, gritar ou tornar visíveis emoções e ações consideradas transgressoras, e rejeitar a tentação, historicamente associada a Ismene, de conivência em manter suas ações em segredo. O silêncio, proclamava o ACT UP, equivalia à morte.” (idem, pp 60)
Na leitura de Honig, produzir representatividade e reenquadramento requer pluralização e democratização, seria isso o que o movimento gay conseguiu com seu ativismo dos anos 80. Seguindo essa experiência, Honig nos convida a buscar uma Antígona que não nos mergulhe em uma política das lamentações, porém que também inaugure uma política insurgente da lamentação. O caminho que ela nos oferece, além do da insurgência, é o da conspiração.
“A ideia é tratar a lamentação como um tipo de enunciado performativo, observar o que é dito e feito por meio da lamentação: as maldições proferidas, as posições assumidas, as fidelidades reivindicadas, as vinganças exigidas, as apropriações realizadas, as conspirações encenadas com outros e com as linguagens.” (idem, pp 89)
Honig nos convida a ler Antígona como uma conspiradora com a linguagem, cujo gênero seria o melodrama, um gênero menor, sem grandiosidade, porém performático.
Quais seriam as performances possíveis, nas periferias brasileiras para que as milhares de famílias enlutadas pudessem fazer sua lamentação e luto pelos milhares de jovens assassinados pela polícia ou pelo narcotráfico? Que tipo de revolta performam os também milhares de jovens pobres que nem estudam nem trabalham como mostrou recente estudo do IBGE? (Em 2023, cerca de 19,8% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos não estavam estudando nem trabalhando. Isso representa aproximadamente 9,6 milhões de jovens nessa situação)
Teremos algo para oferecer a eles além do ciberespaço e os celulares cheios de tik-tokers? Por que eles frequentariam escolas nas quais se sentem violentados (vide nosso capítulo 7), e nas quais não encontram amparo adulto? Que subjetividades seriam essas que estão se formando aos montes?
A política das pequenas coisas
Jeffrey Goldfarb em seu livro “The politics of small things: the power of the powerless in dark times” nos ajuda a continuar o raciocínio sobre a conspiração. E, também, sobre o que se performa nos espaços íntimos. E aponta também para a politicidade desses espaços pequenos.
“O estudo da política das pequenas coisas é, portanto, um primeiro passo para assumir a responsabilidade em nossos tempos complexos.” (Goldfarb, 2006, pp3)
Nesse interessante texto, Goldfarb relata sua experiencia no final dos anos 70 quando realizou seu estudo de campo na Polônia. Partindo de três cenas: uma conversa crítica ao regime comunista acontecida na mesa da cozinha, uma livraria clandestina que vendia livros proibidos pelo regime em um apartamento popular e uma leitura de poesia em um outro apartamento, ele dá sustentação a sua tese de que a política acontece nas pequenas coisas, nesses espaços de interação, espaços de liberdade construída por meio de interações e relacionamentos concretos.
É como se a queda do muro estivesse já contida nessas cenas de pequenas insurgências secretas ao regime. Para Goldfarb, a diferenciação social se dá por meio da interação social, no espaço público da sociedade civil. Essas cenas ilustram o drama político do dia a dia e destacariam a centralidade da política das pequenas coisas.
Esse autor aponta como as pequenas dissidências populares “de viver a verdade” no seu dia a dia constituíram na Polonia uma grande transformação. Ele ressalta a esfera das interações como constitutivas das políticas das pequenas coisas e a constituição dessas micro redes como componentes ativos de um projeto político transformador.
Goldfarb destaca: “A política das pequenas coisas não é uma fonte de poder tão aparente quanto o poder da economia e do Estado, mas ela está lá..” (idem, pp 47)
Nas transformações ocorridas entre 1968-1989 ele identifica as micro origens do pós totalitarismo, a saber: viver na verdade, a extensão da mesa da cozinha e a formação de público. A primeira teria sido operada pelo sindicato, ao desistir de utilizar o linguajar comunista, mas sem trombar de frente com a ideologia vigente. A segunda teria sido a forma de ampliar as micro redes de relações e interpretações do real em pequenos círculos confiáveis, e a terceira criada a partir das inúmeras performances artísticas clandestinas.
Em um artigo de 2009 Goldfarb resume sua tese:
“Observando atentamente a política, especialmente o que chamo de política das pequenas coisas, fiquei muito impressionado com a importância do esquecimento no desenvolvimento de uma política livre. A política das pequenas coisas é um conceito extraído da teoria política de Hannah Arendt e da sociologia de Erving Goffman. Quando as pessoas se encontram e falam na presença umas das outras, desenvolvendo a capacidade de agir juntas com base em compromissos, princípios ou ideais compartilhados, elas desenvolvem poder político. Esse poder é constituído na interação social. Sua base está na definição da situação, no poder das pessoas de definir sua realidade social. No poder de definição, reside o poder de constituir alternativas à ordem existente. Quando esse poder envolve o encontro de iguais, respeitosos da verdade factual e abertos a interpretações alternativas dos problemas que enfrentam, ele possui uma capacidade democrática profunda. Como teorizou Hannah Arendt, ele constitui poder político como o oposto da coerção. Mas cada elemento dessa conceitualização da micropolítica precisa ser trabalhado.” (Goldfarb, 2009, pp145)
Penso que as colocações de Goldfarb poderiam ser bastante úteis para ajudar-nos a compreender as teias de solidariedade e resistência que operam debaixo da superfície – por assim dizer – em inúmeras comunidades pobres e periféricas do Brasil. Seria importante que estudássemos as micro estratégias de luto e recuperação, as redes de solidariedade entre mulheres, os efeitos de cuidado e ancoragem que oferecem as igrejas neopentecostais, enfim, buscar compreender como se constituem esses poderes políticos nas comunidades para colocar nossos serviços e políticas públicas ao seu serviço, de maneira agonística e não antagônica.
Goldfarb propõe que em sociedades marcadas por enfrentamentos seculares como a norte americana pelo racismo, ou no conflito judeu-palestino seria necessário seguir o caminho proposto por Toni Morrison em seu romance Beloved o da “re-relembrança” (re-remembering, em tradução livre). Psicanaliticamente diríamos uma necessária elaboração (ele não utiliza esse termo) que implica, e parece paradoxal, em uma paulatina e progressiva capacidade de esquecer. Falamos muito no Brasil dos problemas advindos da falta de memória das violências históricas, mas pouco teorizamos sobre a necessidade de religação desses fragmentos traumáticos (como nos ensinou Bleichmar), de como essa ação permite o esquecimento e o perdão, porém sem amnésia como aponta o trecho a seguir:
Há poder quando as pessoas se reúnem, falam e agem na presença umas das outras, desenvolvendo a capacidade de agir em conjunto. Como conseguimos realmente nos reunir, reconhecendo uns aos outros como iguais, envolve os difíceis desafios da interação social, trabalhando em uma definição comum de uma situação, o que muitas vezes envolve uma redefinição. Quando a definição é extraída da memória coletiva herdada, o que geralmente é o caso, algo que Erving Goffman estruturou sua sociologia em torno, ela é a força dinâmica que constitui a memória, para o bem e para o mal. Redefinir em nossas ações torna possível re-relembrar de maneiras criativas. Isso possibilita superar as implicações repressivas iminentes da memória. Mas este é um projeto político difícil que requer muito mais do que a bela formulação de Michnik: “anistia sem amnésia“. (Goldfarb, 2009, pp146, negrito nosso)
Resgatamos esses conceitos, pois ainda sendo do campo da sociologia e da ciência política, é possível colocá-los em contato com conceitos psicanalíticos para que eles nos ajudem a alinhavar a argumentação sobre o luto social e a ação política que desejamos sustentar neste capítulo.
No nosso serviço Liame**, nos atendimentos às pessoas que foram expostas a violência, por exemplo, temos trabalhado com a noção de autotransplantes psíquicos de Silvia Bleichmar (2010). Para Silvia, nos casos de violência haveria uma tarefa terapêutica que seria a de ajudar a esquecer. O esquecimento só seria possível a partir da ligação desses fragmentos desligados do simbólico e que propiciariam relações de objeto metonímicas e não metafóricas. As ideias de Goldfarb nos ajudam a levar essas ideias ao campo do trauma social, histórico e cultural.
No contexto brasileiro, o caso da violência racista é comumente muito silenciado. Jovens que atendemos em nosso serviço falam com naturalidade de sofrer ‘bullying’. A pouco interrogar os adjetivos e questões envolvidos nesse bullying encontramos sempre referências ao tipo de cabelo, às configurações faciais etc. É muito comovedor constatarmos a cada vez o alívio que produz nesses jovens negros o fato de poderem denunciar e ter reconhecido seu sofrimento como racista. E para isso acontecer, muitas vezes somos nós – terapeutas – quem precisa nomear essas situações como casos de racismo.
Que processo de identificação cultural produzem, por exemplo, nossas escolas públicas, ao aceitar com tanta facilidade o termo anglo-saxão, que escamoteia nossa miséria colonial? Pensar como podemos colocar nossa política pública de educação ao serviço da transformação e não da reprodução desse status quo é uma das causas que nos movem.
Artigo publicado no site Outra Saúde, por Rosana Onocko-Campos, em 20/8/2024.
* Todas as traduções em itálico feitas por Outra Saúde
** Liame: serviço público de psicanálise e apoio matricial para situações de violência (a palavra Liame significa vínculo, tudo aquilo que é capaz de ligar, unir)